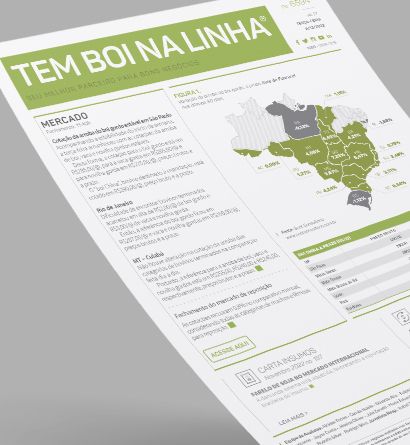- Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026
Agricultura espacial: o agro do mundo da Lua
A mesma força que levou a humanidade desde as estepes africanas até estar se preparando para conquistar Marte, nos permite sonhar que o “Space Livestock” um dia será possível e que demorará menos do que 100 mil anos.

Foto: Freepik
Acredita-se que nossa espécie tenha saído da África para ganhar o mundo há mais de 100 mil anos, feito concluído entre 70-85 mil anos atrás, com a chegada à América do Sul. Colocar os pés fora da Terra, é um feito bem mais recente, há meros 55 anos e, olhe lá, que fomos apenas ao nosso companheiro de viagem¹ natural, logo aqui ao lado.
Essa conquista, contudo, teve muito mais um objetivo político, de demonstração de superioridade tecnológica dos EUA sobre a Rússia, então à frente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi, portanto, mais uma ação da “Guerra Fria” entre essas duas potências militares. Prova disso é que o programa Apolo, depois de realizar o feito de conquistar a Lua com a missão Apolo 11, em julho de 1969, teve sobrevida curta, com a última missão (Apolo 17) logo em dezembro de 1972.
Apenas quase 50 anos depois, em 2017, que os EUA voltaram a ter um programa prevendo a volta de humanos à Lua, com a criação do Projeto Artemis. Desta vez, a ideia é manter a presença humana por lá, tanto para potencial exploração de atividades de interesse para a vida na Terra, como para ser uma escala para o próximo destino espacial, Marte.
Apesar das críticas ao Projeto Apolo pela imensidão de recursos financeiros, físicos e pessoais para o objetivo focado em termos geopolíticos, é preciso reconhecer que, além de grandes avanços sobre o conhecimento da Lua, houve enorme avanço científico em inúmeras áreas. No caso do conhecimento da Lua, para ilustrar nossa ignorância quanto a ela antes da sua conquista, basta dizer que, uma das incertezas quanto à alunissagem (o pouso na lua), era se o módulo lunar não iria afundar ao tocar o solo. Com relação aos avanços tecnológicos, entre inúmeros exemplos, temos sistemas com maior capacidade de processamento de dados, miniaturização de equipamentos, sistemas de purificação de água e até espumas “com memória” (usadas no famoso travesseiro do astronauta!).
Especificamente na área de alimentos, houve o desenvolvimento de processos para usar menos espaço e aumentar sua conservação sem necessidade de refrigeração, com a retirada da água dos ingredientes à vácuo e com baixas temperaturas (liofilização), bem como outras técnicas de conservação e novas embalagem. Dentro das missões de curto prazo da missão Apolo e, mesmo considerando a Estação Espacial, com ocupação humana desde o ano 2000 até hoje, foi possível resolver a alimentação das tripulações sem a produção in loco, ainda que, na estação espacial, haja uma produção experimental de hortaliças cujo “excedente de pesquisa” pode entrar no cardápio dos tripulantes.
Todavia, como o objetivo do Projeto Artemis, orçado em mais de US$ 90 bilhões, é a manutenção sustentável de seres humanos na Lua, desta vez a produção de alimentos por lá é fundamental para o sucesso do empreendimento. É uma forte lembrança da importância do Agro e como ele é básico para a vida de todos. É dessa realidade basilar, então, que surge a Agricultura Espacial.
É inescapável voltar aos questionamentos: Com tanto a fazer aqui embaixo, compensa direcionar recursos para o Espaço? Assim como o “travesseiro do astronauta”, podemos ter benefícios indiretos? A resposta é sim, como veremos a seguir, inclusive com o Brasil participando desse empreendimento.
O ambiente lunar é extremo para a produção de alimentos, pela incipiente atmosfera e ausência de água na forma líquida, além de solos de baixa fertilidade. Escassez de água e solos pobres são desafios que existem na Terra e que pelo crescimento populacional e, especialmente, por conta das mudanças climáticas, são desafios crescentes.
Recentemente um artigo da Nature mostrava quatro áreas de comum interesse entre a produção espacial e terrestre de alimentos: 1) Suprimentos alimentares em condições desafiadoras; 2) Nutrição humana de precisão; 3) Sistemas para produção de alimentos e 4) Fontes alternativas de proteína. Abaixo um resumo de cada uma delas.
No caso do primeiro item, a alimentação no espaço depende de alimentos que não precisem de refrigeração para não estragar, em embalagens de alta resistência ao dano físico e menos sujeitas às contaminações. Além disso, devem ser de mínimo preparo e fáceis de consumir. Essas são as mesmas características necessárias para a alimentação em situações de catástrofes. No Japão, por exemplo, os 53 alimentos desenvolvidos por sua agência espacial, desde 2022, são certificados também como alimentos para uso em catástrofes, de maneira que possam ser usados nos dois cenários. O artigo da Nature defende que esse exemplo do Japão poderia ser ampliado para os países que desenvolvem comida espacial de forma a padronização ajudar a garantir essa dupla aptidão com ainda mais qualidade.
O Japão também seria o líder do item 2: a nutrição de precisão. O Grupo de Trabalho do Sistema Alimentar Lunar da agência espacial japonesa avalia um conjunto de oito alimentos (alface, arroz, batata, batata-doce, morango, pepino, soja e tomate) capazes de fornecer os cinco elementos cruciais (energia, proteína e vitaminas B1, B2 e C) e os demais nutrientes necessários para atender as exigências nutricionais da rotina diária dos astronautas. Por vários países há o interesse em aumentar o consumo de antioxidantes, como polifenóis, vitamina E, selênio e ácidos graxos ômega-3, por sua ação anti-inflamatória que ajudaria a reduzir a perda muscular que ocorre na microgravidade. Nessa condição há um aumento do estresse oxidativo que sinaliza para a célula parar de sintetizar e começar a degradar proteína. Esse seria o mesmo mecanismo que ocorre com pessoas acamadas. De forma geral, aprender a função dos micronutrientes sob estresse, métodos de fornecê-los e mais sobre as necessidades fisiológicas humanas serão tão úteis na Lua, como na Terra.
Em relação aos sistemas para produção de alimentos, as limitações de água, espaço e mão-de-obra das missões espaciais são as mesmas que a produção vertical urbana, a agricultura em regiões passando por catástrofes ou regiões remotas na Terra. Para alimentação espacial sistemas de circuito fechado, atualmente no estágio de prova-de-conceito, estão sendo desenvolvidos para integrar produção de soja, peixe e grilos. Parte da soja não usada para alimentação humana seria usada para alimentar os peixes e insetos. Já os ossos do peixe e os exoesqueletos dos insetos seriam usados como biofertilizantes para as plantas. Aliás, um grande desafio é o manejo de dejetos, seja pelo pouco espaço, seja pela criticidade de manter o ambiente sem contaminações ou pela questão que a reduzida gravidade impõe na dinâmica dos fluidos. Portanto, a opção de ciclagem de dejetos é particularmente interessante.
Na lista da Nature, o último item é a produção de proteínas alternativas: a carne cultivada em laboratório, de insetos e, também, de vegetais. No caso desta última fonte há o desenvolvimento de um sistema compacto de cultivo de soja que usa iluminação por LED e cujos nutrientes inclui nitrogênio de N2 convertido por Rhizobium spp em formas de N que a planta pode usar para sintetizar proteína. A proteína cultivada em laboratório poderia prover aos astronautas nutrientes como aminoácidos de cadeia ramificada, ausentes na proteína da soja, que são importantes para gerar energia para atividades físicas. O texto, contudo, reconhece que essa técnica tem um longo caminho a percorrer para se tornar viável. No Japão, sua agência espacial estuda a criação de peixes, crustáceos e moluscos bivalves em um sistema de circuito fechado. Nos EUA, há o estudo para incluir grilos na alimentação no espaço, pois eles têm exigência mínima de água e alimento, produção massal eficiente e são ricos em aminoácidos de cadeia ramificada e taurina, um aminoácido com propriedades antioxidantes. Algas, como a Espirulina spp e a Chlorella spp, podem ter até 70% de proteína na matéria seca, crescem rápido e, pela fotossíntese, transformam dióxido de carbono em oxigênio. Já os fungos filiformes, podem ser produzidos no escuro e com quantidades ínfimas de umidade, tendo alto teor de aminoácidos essenciais. A Agência Espacial Europeia tem um projeto de produção de proteínas produzidas por bactérias que utilizam metano e, portanto, podem ajudar a reciclar carbono em biorreatores. É fácil perceber que todas essas opções podem ser usadas para produção de alimentos aqui na Terra em situações extremas, como a de catástrofes naturais e mesmo em condições normais, como na agricultura urbana.
Há bem mais do que o abordado por esse texto da Nature na interação da produção de alimentos e exploração espacial, o que explica o interesse de tantos países no tema. O Brasil, através da Agência Espacial Brasileira (AEB) faz parte do Acordo Artemis, desde 2021, e um dos seus objetivos no acordo é colaborar com o esforço de conseguir cultivar plantas no espaço. A partir de 2023, por intermédio da AEB, a Embrapa se juntou a esse esforço, formando a Rede Space Farming Brazil, com a participação de pesquisadores de 22 instituições de pesquisa e universidades brasileiras e estrangeiras. O Brasil se junta a mais de 50 países no Acordo, no qual o interesse de todos vai muito além da agricultura em si, mas as oportunidades que essa nova corrida permite vislumbrar em termos de desenvolvimento e inovação e, consequentemente, oportunidades de mercado na “economia espacial”, tanto no espaço, como na Terra.
As culturas escolhidas pela nossa “Rede” para desenvolvimento de cultivo são a batata-doce e o grão-de-bico, por suas características nutricionais e agronômicas. Elas precisarão provar adaptação às restrições da agricultura espacial, com características favoráveis ao cultivo em ambientes fechados, resistentes à maior exposição à radiação ionizante, com baixa exigência hídrica e, ao mesmo tempo, ser eficientes na produção de energia, proteína e demais nutrientes. Cultivares dessas espécies com esse perfil serão vantajosas também por aqui, não só por suportarem situações desafiadoras e serem mais eficientes, mas porque provavelmente poderão ser variedades mais nutritivas, melhoria que está no escopo da Rede.
Um dos motivos para esperar isso é que a radiação ionizante espacial, ao causar alterações no DNA, aumenta a variabilidade genética, que, além de poder gerar plantas com características inéditas a serem exploradas, permite intensificar os ganhos da seleção genética. Essa técnica é usada há mais de 25 anos e chama-se “space breeding”, o melhoramento espacial. Na China, foram já lançadas mais de 600 cultivares de 44 culturas com o auxílio dessa técnica e, em experimentos espaciais, pelo menos quatro cultivares de tomate (para produtividade, precocidade e qualidade de fruto) e arroz (precocidade, qualidade de grão, produtividade e baixa estatura de planta) já foram registradas.
Conjuntamente, é necessário expor as plantas a outro efeito a ser investigado: a microgravidade. Isso, tanto para produzir melhor nessas condições presentes na Lua, como para entender melhor características da planta que se alteram mesmo se expostas por pouco tempo a essa condição. Essas condições serão tanto simuladas na Terra, como pelos experimentos que ocorrem fora da Terra. Aliás, em Abril deste ano, sementes de batata-doce e mudas de grão-de-bico já foram expostos a elas no voo do foguete New Shepard da Blue Origin, na mesma viagem que foi manchete por ter, como uma das passageiras a bordo, a cantora pop Katy Perry. Essas amostras vêm ao Brasil para dar sequência nas avaliações previstas no projeto.
Na agenda de trabalho brasileira está também o desenvolvimento protótipo de ambiente de cultivo espacial para produção de alimentos na Lua, no trânsito em espaço profundo e para habitação em Marte. O processo da obtenção desses resultados aumenta a criação de tecnologias inovadoras não só na produção de alimentos, mas biomassa, biomateriais, bioinsumos e, certamente, novidades que ainda ficam além do nossa perspectiva atual.
Há oportunidades, inclusive, para o desenvolvimento de equipamentos de pesquisa que ajudem a realizar as tarefas do projeto e que, como sempre, poderão ser incorporados nas rotinas laboratoriais na Terra.
Infelizmente, no estágio atual, obviamente, não é possível vislumbrar um grande envolvimento da pecuária bovina, exceto pela inclusão de sementes de forrageiras nos programas de melhoramento espacial (space breeding). Ainda assim, a mesma força que levou a humanidade desde as estepes africanas até estar se preparando para conquistar Marte, nos permite sonhar que o “Space Livestock” um dia será possível e que demorará menos do que 100 mil anos.
Agradecimento: Entre tantos colegas especiais da Embrapa Pecuária Sudeste, um agradecimento para a mais “espacial” de todas, a Dra. Alessandra Pereira Fávero - coordenadora da Rede Space Farming Brazil – por repassar as informações sobre o projeto e revisar o texto, com todas as alterações aceitas.
Para saber mais sobre o programa da Rede Brasileira de Agricultura Espacial: https://www.embrapa.br/pecuaria-sudeste/agricultura-espacial
Entre os dias 14-16 de outubro ocorre o “International Symposium on Space Farming - SIAE” em São José dos Campos - SP. Mais informações: https://www.embrapa.br/en/pecuaria-sudeste/agricultura-espacial/siae
¹A palavra "satélite" tem origem no termo latino "satelles", que significa "guarda pessoal" ou "acompanhante". O primeiro satélite artificial, colocado em órbita pela então União Soviética chamava-se Sputinik que, em russo, significa “companheiro de viagem” e que passou a ser usado como sinônimo de satélite.

Sergio Raposo de Medeiros
Engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado pela mesma universidade. É pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e especialista em nutrição animal com enfoque nos seguintes temas: exigência e eficiência na produção animal, qualidade de produtos animais e soluções tecnológicas para produção sustentável. É membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS).
Últimas Notícias
Entrevista
Scot na mídia
Newsletter diária
Receba nossos relatórios diários e gratuitos